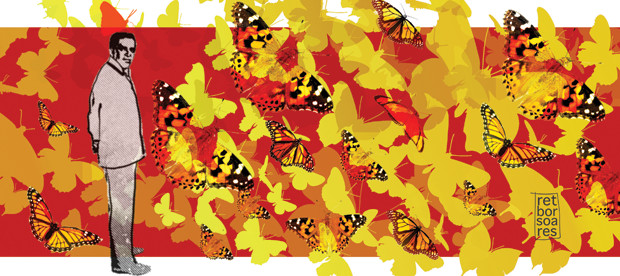Diante do descrédito generalizado com a classe política brasileira, jovens têm direcionado sua formação acadêmica para entrar na política pela porta da frente. Prefeito, deputado e até presidente são cargos que não passam só por um sonho: são objetivos de carreira.
Com Lava Jato, um polêmico processo de impeachment e a exposição de acordos políticos de autopreservação, a conjuntura não é muito inspiradora para a política. Mas esse cenário tem sido visto como uma "janela de oportunidades" para esses jovens. Eles têm construído currículos acadêmicos com os quais poderiam almejar cargos cobiçados em grandes empresas, mas a vontade de querer mudar as coisas tem sido maior.
Na sala da coordenação do curso de administração pública da FGV, em São Paulo, os professores Fernando Abrucio e Marco Antonio Carvalho Teixeira já apresentam à reportagem, em tom de brincadeira, um grupo de alunos pelos futuros cargos: ministro, prefeita de Curitiba, prefeito do Rio, presidente.
A menos de um semestre de se formar no curso, Fernanda Quiroga, 22, tem uma meta traçada. Em 2020, próximas eleições municipais, deve sair candidata a uma vaga na Câmara Municipal de SP. "Ao mesmo tempo em que a população está descrente da política, está também ansiando encontrar novas pessoas", diz.
No último pleito, Fernanda trabalhou na campanha de Marina Helou, que concorreu pela Rede e na chamada Bancada Ativista, mas não se elegeu vereadora. Atuou ainda na criação de um coletivo feminista na faculdade e também iniciou uma segunda graduação de direito. "Sei que legislação é importante no governo, será mais uma ferramenta para mim."
Ainda no ensino médio, Fernanda viajou com a escola para a cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. O contato com a realidade pobre do local, como falta de médicos, despertou nela a ansiedade de tentar colaborar.
"Foi a primeira vez que vi a falta do Estado na vida das pessoas. Tive a sensação de que o governo era um multiplicador. O que o Estado faz de bom e de ruim vai impactar na vida das pessoas", diz.
Esse reflexo das ações do Estado no cotidiano foi decisivo para o estudante carioca Pedro Berto, 25.
As obras da Olimpíada provocaram remoções na Vila Autódromo, zona oeste, onde morava. Berto e a mãe, líder de um importante centro de candomblé no local, não aceitaram a oferta de dinheiro para sair. Então aluno de ciências contábeis com o objetivo inicial de atuar no mercado financeiro, o jovem acabou se tornando uma referência na mobilização contra as remoções forçadas a partir de 2014.
"Percebi que a vida era muito mais que o mercado financeiro e que existiam mais coisas do que eu entendia como felicidade e bem-estar. Aí larguei o curso e tive outro objetivo, que só fazia sentido se tivesse na área pública", diz.
Com apoio financeiro de uma jornalista estrangeira que o entrevistou durante a resistência, fez cursinho para o vestibular de administração pública na FGV. Passou no ano passado. Mudou-se para São Paulo com ajuda da ONG Educafro, onde também deu aulas para refugiados, e hoje estuda com bolsa de 100%. Ainda recebe auxílio-moradia e transporte.
"Não é um sonho. Minha meta é ser prefeito do Rio".
PARTIDO
Marco Antonio Teixeira, da FGV, reforça que há uma parcela da juventude preocupada com questões coletivas, imbuída de valores solidários. "A decepção com a política não está sendo confundida com a negação da política", diz. "Para muitos, é mais um fator de necessidade de mudança e de melhoria da qualidade da intervenção."
Mas a transição entre a formação e a vida prática da política passa pela entrada em um partido. E, no geral, a escolha de uma legenda ainda é uma angústia para os jovens.
Estudante do 1º ano de direito na USP, Leonardo Hidalgo Racy, 18, já tem frequentado alguns encontros de partidos. Sabe que terá que se filiar para entrar no jogo: ele pretende chegar a Brasília, mas planeja uma candidatura à Câmara Municipal.
"Honestamente, nenhum partido atual me atrai, não me arriscaria a escolher um agora. Mas acredito que podemos provocar renovações", diz.
Pablo Ortellado, docente do curso de gestão de políticas públicas da USP, lembra que, de fato, as estruturas partidárias são muito fechadas. "O sistema não é poroso para esse tipo de relação, é muito difícil a entrada de pessoas novas", diz. Ele pondera, entretanto, que há um perfil bastante comum de jovens brilhantes que estão ocupando espaço na gestão pública.
Tábata Amaral, 23, faz parte de um movimento incipiente de renovação política que reúne outros jovens e busca se consolidar para as eleições de 2018. Ela ainda não tem partido, mas já desenha uma forma de atuação nessas estruturas.
Vinda de uma família pobre, Tábata ganhou uma bolsa para estudar em escola particular quando ainda estava no ensino fundamental ao ser destaque em olimpíadas de matemática de escolas públicas. Sua trajetória desaguou em Harvard, onde foi estudar astrofísica e acabou se matriculando também em ciência política.
"Eu me esforcei, claro, mas tive oportunidades que outros não tiveram. Percebi que não podia ser cientista e que tinha que voltar para o Brasil para me envolver", diz ela, que fundou a plataforma de mobilização Mapa Educação.
Até o meio do ano ela decide se vai se candidatar em 2018 a uma vaga na Assembleia de São Paulo. Mas, em palestras e debates, repete seu objetivo a longo prazo. "Quero ser presidente do Brasil".
Com Lava Jato, um polêmico processo de impeachment e a exposição de acordos políticos de autopreservação, a conjuntura não é muito inspiradora para a política. Mas esse cenário tem sido visto como uma "janela de oportunidades" para esses jovens. Eles têm construído currículos acadêmicos com os quais poderiam almejar cargos cobiçados em grandes empresas, mas a vontade de querer mudar as coisas tem sido maior.
Na sala da coordenação do curso de administração pública da FGV, em São Paulo, os professores Fernando Abrucio e Marco Antonio Carvalho Teixeira já apresentam à reportagem, em tom de brincadeira, um grupo de alunos pelos futuros cargos: ministro, prefeita de Curitiba, prefeito do Rio, presidente.
| Marcus Leoni/Folhapress | ||
 | ||
| Estudantes da FGV-SP têm ambições de serem prefeitos, ministros e até presidente |
No último pleito, Fernanda trabalhou na campanha de Marina Helou, que concorreu pela Rede e na chamada Bancada Ativista, mas não se elegeu vereadora. Atuou ainda na criação de um coletivo feminista na faculdade e também iniciou uma segunda graduação de direito. "Sei que legislação é importante no governo, será mais uma ferramenta para mim."
Ainda no ensino médio, Fernanda viajou com a escola para a cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. O contato com a realidade pobre do local, como falta de médicos, despertou nela a ansiedade de tentar colaborar.
"Foi a primeira vez que vi a falta do Estado na vida das pessoas. Tive a sensação de que o governo era um multiplicador. O que o Estado faz de bom e de ruim vai impactar na vida das pessoas", diz.
Esse reflexo das ações do Estado no cotidiano foi decisivo para o estudante carioca Pedro Berto, 25.
As obras da Olimpíada provocaram remoções na Vila Autódromo, zona oeste, onde morava. Berto e a mãe, líder de um importante centro de candomblé no local, não aceitaram a oferta de dinheiro para sair. Então aluno de ciências contábeis com o objetivo inicial de atuar no mercado financeiro, o jovem acabou se tornando uma referência na mobilização contra as remoções forçadas a partir de 2014.
"Percebi que a vida era muito mais que o mercado financeiro e que existiam mais coisas do que eu entendia como felicidade e bem-estar. Aí larguei o curso e tive outro objetivo, que só fazia sentido se tivesse na área pública", diz.
Com apoio financeiro de uma jornalista estrangeira que o entrevistou durante a resistência, fez cursinho para o vestibular de administração pública na FGV. Passou no ano passado. Mudou-se para São Paulo com ajuda da ONG Educafro, onde também deu aulas para refugiados, e hoje estuda com bolsa de 100%. Ainda recebe auxílio-moradia e transporte.
"Não é um sonho. Minha meta é ser prefeito do Rio".
PARTIDO
Marco Antonio Teixeira, da FGV, reforça que há uma parcela da juventude preocupada com questões coletivas, imbuída de valores solidários. "A decepção com a política não está sendo confundida com a negação da política", diz. "Para muitos, é mais um fator de necessidade de mudança e de melhoria da qualidade da intervenção."
Mas a transição entre a formação e a vida prática da política passa pela entrada em um partido. E, no geral, a escolha de uma legenda ainda é uma angústia para os jovens.
Estudante do 1º ano de direito na USP, Leonardo Hidalgo Racy, 18, já tem frequentado alguns encontros de partidos. Sabe que terá que se filiar para entrar no jogo: ele pretende chegar a Brasília, mas planeja uma candidatura à Câmara Municipal.
"Honestamente, nenhum partido atual me atrai, não me arriscaria a escolher um agora. Mas acredito que podemos provocar renovações", diz.
| Marcus Leoni/Folhapress | ||
 | ||
| O estudante de direito da USP, Leonardo Hidalgo Racy, 18 |
Tábata Amaral, 23, faz parte de um movimento incipiente de renovação política que reúne outros jovens e busca se consolidar para as eleições de 2018. Ela ainda não tem partido, mas já desenha uma forma de atuação nessas estruturas.
Vinda de uma família pobre, Tábata ganhou uma bolsa para estudar em escola particular quando ainda estava no ensino fundamental ao ser destaque em olimpíadas de matemática de escolas públicas. Sua trajetória desaguou em Harvard, onde foi estudar astrofísica e acabou se matriculando também em ciência política.
"Eu me esforcei, claro, mas tive oportunidades que outros não tiveram. Percebi que não podia ser cientista e que tinha que voltar para o Brasil para me envolver", diz ela, que fundou a plataforma de mobilização Mapa Educação.
Até o meio do ano ela decide se vai se candidatar em 2018 a uma vaga na Assembleia de São Paulo. Mas, em palestras e debates, repete seu objetivo a longo prazo. "Quero ser presidente do Brasil".
Em meio a descrédito na política, jovens estudam para disputar eleições
Diante do descrédito generalizado com a classe política brasileira, jovens têm direcionado sua formação acadêmica para entrar na política pela porta da frente. Prefeito, deputado e até presidente são cargos que não passam só por um sonho: são objetivos de carreira.
Com Lava Jato, um polêmico processo de impeachment e a exposição de acordos políticos de autopreservação, a conjuntura não é muito inspiradora para a política. Mas esse cenário tem sido visto como uma "janela de oportunidades" para esses jovens. Eles têm construído currículos acadêmicos com os quais poderiam almejar cargos cobiçados em grandes empresas, mas a vontade de querer mudar as coisas tem sido maior.
Na sala da coordenação do curso de administração pública da FGV, em São Paulo, os professores Fernando Abrucio e Marco Antonio Carvalho Teixeira já apresentam à reportagem, em tom de brincadeira, um grupo de alunos pelos futuros cargos: ministro, prefeita de Curitiba, prefeito do Rio, presidente.
A menos de um semestre de se formar no curso, Fernanda Quiroga, 22, tem uma meta traçada. Em 2020, próximas eleições municipais, deve sair candidata a uma vaga na Câmara Municipal de SP. "Ao mesmo tempo em que a população está descrente da política, está também ansiando encontrar novas pessoas", diz.
No último pleito, Fernanda trabalhou na campanha de Marina Helou, que concorreu pela Rede e na chamada Bancada Ativista, mas não se elegeu vereadora. Atuou ainda na criação de um coletivo feminista na faculdade e também iniciou uma segunda graduação de direito. "Sei que legislação é importante no governo, será mais uma ferramenta para mim."
Ainda no ensino médio, Fernanda viajou com a escola para a cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. O contato com a realidade pobre do local, como falta de médicos, despertou nela a ansiedade de tentar colaborar.
"Foi a primeira vez que vi a falta do Estado na vida das pessoas. Tive a sensação de que o governo era um multiplicador. O que o Estado faz de bom e de ruim vai impactar na vida das pessoas", diz.
Esse reflexo das ações do Estado no cotidiano foi decisivo para o estudante carioca Pedro Berto, 25.
As obras da Olimpíada provocaram remoções na Vila Autódromo, zona oeste, onde morava. Berto e a mãe, líder de um importante centro de candomblé no local, não aceitaram a oferta de dinheiro para sair. Então aluno de ciências contábeis com o objetivo inicial de atuar no mercado financeiro, o jovem acabou se tornando uma referência na mobilização contra as remoções forçadas a partir de 2014.
"Percebi que a vida era muito mais que o mercado financeiro e que existiam mais coisas do que eu entendia como felicidade e bem-estar. Aí larguei o curso e tive outro objetivo, que só fazia sentido se tivesse na área pública", diz.
Com apoio financeiro de uma jornalista estrangeira que o entrevistou durante a resistência, fez cursinho para o vestibular de administração pública na FGV. Passou no ano passado. Mudou-se para São Paulo com ajuda da ONG Educafro, onde também deu aulas para refugiados, e hoje estuda com bolsa de 100%. Ainda recebe auxílio-moradia e transporte.
"Não é um sonho. Minha meta é ser prefeito do Rio".
PARTIDO
Marco Antonio Teixeira, da FGV, reforça que há uma parcela da juventude preocupada com questões coletivas, imbuída de valores solidários. "A decepção com a política não está sendo confundida com a negação da política", diz. "Para muitos, é mais um fator de necessidade de mudança e de melhoria da qualidade da intervenção."
Mas a transição entre a formação e a vida prática da política passa pela entrada em um partido. E, no geral, a escolha de uma legenda ainda é uma angústia para os jovens.
Estudante do 1º ano de direito na USP, Leonardo Hidalgo Racy, 18, já tem frequentado alguns encontros de partidos. Sabe que terá que se filiar para entrar no jogo: ele pretende chegar a Brasília, mas planeja uma candidatura à Câmara Municipal.
"Honestamente, nenhum partido atual me atrai, não me arriscaria a escolher um agora. Mas acredito que podemos provocar renovações", diz.
Pablo Ortellado, docente do curso de gestão de políticas públicas da USP, lembra que, de fato, as estruturas partidárias são muito fechadas. "O sistema não é poroso para esse tipo de relação, é muito difícil a entrada de pessoas novas", diz. Ele pondera, entretanto, que há um perfil bastante comum de jovens brilhantes que estão ocupando espaço na gestão pública.
Tábata Amaral, 23, faz parte de um movimento incipiente de renovação política que reúne outros jovens e busca se consolidar para as eleições de 2018. Ela ainda não tem partido, mas já desenha uma forma de atuação nessas estruturas.
Vinda de uma família pobre, Tábata ganhou uma bolsa para estudar em escola particular quando ainda estava no ensino fundamental ao ser destaque em olimpíadas de matemática de escolas públicas. Sua trajetória desaguou em Harvard, onde foi estudar astrofísica e acabou se matriculando também em ciência política.
"Eu me esforcei, claro, mas tive oportunidades que outros não tiveram. Percebi que não podia ser cientista e que tinha que voltar para o Brasil para me envolver", diz ela, que fundou a plataforma de mobilização Mapa Educação.
Até o meio do ano ela decide se vai se candidatar em 2018 a uma vaga na Assembleia de São Paulo. Mas, em palestras e debates, repete seu objetivo a longo prazo. "Quero ser presidente do Brasil".
Com Lava Jato, um polêmico processo de impeachment e a exposição de acordos políticos de autopreservação, a conjuntura não é muito inspiradora para a política. Mas esse cenário tem sido visto como uma "janela de oportunidades" para esses jovens. Eles têm construído currículos acadêmicos com os quais poderiam almejar cargos cobiçados em grandes empresas, mas a vontade de querer mudar as coisas tem sido maior.
Na sala da coordenação do curso de administração pública da FGV, em São Paulo, os professores Fernando Abrucio e Marco Antonio Carvalho Teixeira já apresentam à reportagem, em tom de brincadeira, um grupo de alunos pelos futuros cargos: ministro, prefeita de Curitiba, prefeito do Rio, presidente.
| Marcus Leoni/Folhapress | ||
 | ||
| Estudantes da FGV-SP têm ambições de serem prefeitos, ministros e até presidente |
No último pleito, Fernanda trabalhou na campanha de Marina Helou, que concorreu pela Rede e na chamada Bancada Ativista, mas não se elegeu vereadora. Atuou ainda na criação de um coletivo feminista na faculdade e também iniciou uma segunda graduação de direito. "Sei que legislação é importante no governo, será mais uma ferramenta para mim."
Ainda no ensino médio, Fernanda viajou com a escola para a cidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. O contato com a realidade pobre do local, como falta de médicos, despertou nela a ansiedade de tentar colaborar.
"Foi a primeira vez que vi a falta do Estado na vida das pessoas. Tive a sensação de que o governo era um multiplicador. O que o Estado faz de bom e de ruim vai impactar na vida das pessoas", diz.
Esse reflexo das ações do Estado no cotidiano foi decisivo para o estudante carioca Pedro Berto, 25.
As obras da Olimpíada provocaram remoções na Vila Autódromo, zona oeste, onde morava. Berto e a mãe, líder de um importante centro de candomblé no local, não aceitaram a oferta de dinheiro para sair. Então aluno de ciências contábeis com o objetivo inicial de atuar no mercado financeiro, o jovem acabou se tornando uma referência na mobilização contra as remoções forçadas a partir de 2014.
"Percebi que a vida era muito mais que o mercado financeiro e que existiam mais coisas do que eu entendia como felicidade e bem-estar. Aí larguei o curso e tive outro objetivo, que só fazia sentido se tivesse na área pública", diz.
Com apoio financeiro de uma jornalista estrangeira que o entrevistou durante a resistência, fez cursinho para o vestibular de administração pública na FGV. Passou no ano passado. Mudou-se para São Paulo com ajuda da ONG Educafro, onde também deu aulas para refugiados, e hoje estuda com bolsa de 100%. Ainda recebe auxílio-moradia e transporte.
"Não é um sonho. Minha meta é ser prefeito do Rio".
PARTIDO
Marco Antonio Teixeira, da FGV, reforça que há uma parcela da juventude preocupada com questões coletivas, imbuída de valores solidários. "A decepção com a política não está sendo confundida com a negação da política", diz. "Para muitos, é mais um fator de necessidade de mudança e de melhoria da qualidade da intervenção."
Mas a transição entre a formação e a vida prática da política passa pela entrada em um partido. E, no geral, a escolha de uma legenda ainda é uma angústia para os jovens.
Estudante do 1º ano de direito na USP, Leonardo Hidalgo Racy, 18, já tem frequentado alguns encontros de partidos. Sabe que terá que se filiar para entrar no jogo: ele pretende chegar a Brasília, mas planeja uma candidatura à Câmara Municipal.
"Honestamente, nenhum partido atual me atrai, não me arriscaria a escolher um agora. Mas acredito que podemos provocar renovações", diz.
| Marcus Leoni/Folhapress | ||
 | ||
| O estudante de direito da USP, Leonardo Hidalgo Racy, 18 |
Tábata Amaral, 23, faz parte de um movimento incipiente de renovação política que reúne outros jovens e busca se consolidar para as eleições de 2018. Ela ainda não tem partido, mas já desenha uma forma de atuação nessas estruturas.
Vinda de uma família pobre, Tábata ganhou uma bolsa para estudar em escola particular quando ainda estava no ensino fundamental ao ser destaque em olimpíadas de matemática de escolas públicas. Sua trajetória desaguou em Harvard, onde foi estudar astrofísica e acabou se matriculando também em ciência política.
"Eu me esforcei, claro, mas tive oportunidades que outros não tiveram. Percebi que não podia ser cientista e que tinha que voltar para o Brasil para me envolver", diz ela, que fundou a plataforma de mobilização Mapa Educação.
Até o meio do ano ela decide se vai se candidatar em 2018 a uma vaga na Assembleia de São Paulo. Mas, em palestras e debates, repete seu objetivo a longo prazo. "Quero ser presidente do Brasil".